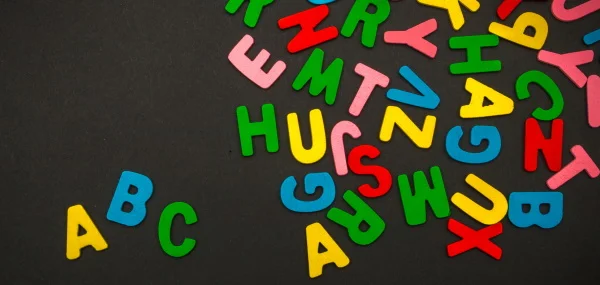Espaço de ajuda aos alunos nas várias disciplinas desde a Educação de Infância até ao Ensino Secundário
segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
Mesmo que chova
Maria de Lurdes Rodrigues, em artigo de opinião
Maria de Lurdes Rodrigues, em artigo de opinião II
A saúde como perspectiva
Não são manuais escolares, são livros de entretenimento
Como ensinar crianças do 1.º Ciclo a não darem erros
Diretores de escolas sabem liderar, dizem os docentes
“É importante treinar a criança a ficar na tarefa, a colocar nela mais esforço e investimento”
O que querem as crianças do pré-escolar?
Devem os pais estudar com os filhos?
Um quarto dos professores optou por fazer revisões da matéria
A mais baixa proporção do ensino público situa-se no pré-escolar
Em Portugal, a maioria das crianças e dos jovens continua a estudar no setor público. O Anuário Estatístico de Portugal 2019 do Instituto Nacional de Estatística (INE), mostra alguns indicadores sobre o setor da educação em Portugal. O EDUCARE.PT faz uma síntese dessa informação.
O Instituto Nacional de Estatísticas dá a conhecer alguns detalhes do sistema educativo em Portugal. Através dos números ficamos a saber quantos alunos estudam no ensino público, como se distribuem os professores pelos diferentes níveis de ensino e qual o investimento do Estado em Educação. O EDUCARE.PT passou em revista a informação sobre o setor da educação coletada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no Anuário Estatístico de Portugal 2019.
Em 2017/2018, o ano letivo de referência das estatísticas relacionadas com o setor da educação, contavam-se 1,6 milhões de alunos matriculados no ensino não superior, ou seja do pré-escolar ao secundário. A distribuição pelos diferentes níveis de escolaridade fazia-se assim: 240 231 alunos no pré-escolar, 987 704 no ensino básico ( 1.°, 2.° e 3.° ciclos), 401 050 no ensino secundário e 4 741 no ensino pós-secundário não superior.
Separando ensino público e privado, os dados do INE mostram que ensino público mantém a preponderância nos diversos níveis de educação no que toca ao número de alunos matriculados. Do pré-escolar até ao ensino secundário, 80,1% do total de alunos a estudar em Portugal fá-lo na escola pública. A rede de ensino público abarca 72,5% do total dos estabelecimentos de ensino e emprega 86,4% do pessoal docente.
Num cenário em que a frequência do ensino público prevalece, de forma clara, sobre o privado há apenas uma exceção. O pré-escolar público representa a mais baixa proporção de ensino público: 53,1%. “Não se afastando muito da linha média da década”, refere a 111.ª edição do anuário do INE.
Ainda no pré-escolar, o ano letivo de 2017/2018 caracterizou-se por uma diminuição de 5,4% do número de crianças matriculadas. Acompanhada também por uma diminuição de 0,5% do pessoal docente. Isto, relativamente ao ano de 2016/2017. Também o ensino básico registou uma diminuição do número de alunos matriculados no 1.°, 2.° e 3.° ciclo, na ordem dos 0,6%, 2,5% e 1,1%, respetivamente. Contra a corrente, no ensino secundário observou-se um aumento de 0,3% no número de matriculados comparativamente ao ano letivo anterior.
De modo geral, há ainda mais professores no sistema educativo português. De acordo com os dados do anuário, o pessoal docente aumentou 0,4% no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico e 1,5% no 3.º ciclo e ensino secundário.
Recuando à década de 90, o Anuário Estatístico de Portugal 2019 mostra grandes mudanças quanto ao número de alunos a frequentar o sistema educativo. Comparativamente ao ano letivo de 1990/1991 o número de alunos matriculados aumentou 40% no pré-escolar e 15,3% no ensino secundário. Já no ensino básico diminuiu nos três ciclos: 40%, 38,2% e 20,1% para os 1.°, 2.° e 3.° ciclos, respetivamente.
Mudanças que também se refletiram no corpo docente. Assim, o pessoal docente do pré-escolar aumentou 71,7%, enquanto o do 3.° ciclo e secundário aumentou apenas 18,9% e o do 1.° e 2.° ciclos diminuiu 26,9% e 23%.
Contas feitas pelo INE, existem 146 830 docentes do ensino não superior distribuídos deste modo: 16 065 no ensino pré-escolar, 29 979 no 1.° ciclo, 24 064 no 2.° ciclo, 76 722 no 3.° ciclo e secundário.
O anuário mostra ainda que em 2017/2018, a taxa de retenção e desistência no ensino básico era de 5,1% e a taxa de transição/conclusão no ensino secundário era de 86,1%.
Olhando para os números do ensino superior, dados mais recentes apontam para 385,2 mil alunos inscritos no ano letivo de 2018/2019, mas por questões de coerência com os restantes indicadores o INE considera no anuário os dados de 2017/2018.
Assim, nesse ano letivo inscreveram-se 372,8 mil estudantes nas 290 instituições existentes. Isto significa mais 3% de inscritos do que no ano letivo anterior, a maioria nas universidades e politécnicos públicos (82,8%).
A taxa de escolarização no ensino superior situou-se nos 35,6%, representando um aumento de 1,3 pontos percentuais em relação a 2016/2017. Sendo que as mulheres representam 53,8% do total de inscritos. Comparando 2018/2019 ao ano letivo de 1990/1991, o número de inscritos praticamente duplicou, tendo aumentando 99,6%.
Quem terminou o curso? O INE contabiliza 79,8 mil alunos diplomados no ano letivo 2017/2018. Ora, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. As áreas de estudo com maior número de diplomados foram as "ciências empresariais, administração e direito" contabilizando 20,3% do total, a "engenharia, indústrias transformadoras e construção" com 19,6% e a "saúde e proteção social" com 17,5%.
O INE refere ainda que o Estado investiu no setor da educação 4,5% do produto interno bruto (PIB) em 2018 e que a despesa pública em Educação foi de 9 266 milhões de euros.
Estes são alguns dos números que constam do Anuário Estatístico de Portugal 2019, divulgado em julho pelo INE e que reúne não apenas informação sobre educação, mas sobre cultura, rendimento, condições de vida e mercado de trabalho.
Andreia Lobo
https://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=175206&langid=1
Forest School: escolas na floresta, salas sem paredes, crianças lá fora
O conceito surgiu na Escandinávia em meados do século passado. A ideia ganhou raízes e seguidores que acreditam que há tanto para explorar e aprender em contacto com a natureza. Portugal tem alguns exemplos e 20 de maio é Dia de Aulas ao Ar Livre. Dia para correr, saltar, brincar, subir às árvores, respirar ar puro.
A metodologia condiz com o conceito, nascido nos anos 50 do século XX na Escandinávia, de levar as crianças para o campo, para a floresta. Aprendizagens a céu aberto em contacto permanente com a natureza, sem esquecer a individualidade de cada ser e a importância de brincar. Sem descurar a descoberta, a observação, a partilha, a colaboração. A Forest School surgiu num ambiente natural para que as crianças assumam riscos, desenvolvam atitudes positivas, e se tornem adultos confiantes, independentes, ativos. As componentes sociais, emocionais e físicas são valorizadas todos os dias.
A Escola Lá Fora desenvolve os seus projetos Forest School desde o ano passado com um conjunto de iniciativas de aprendizagem e lazer ao ar livre de forma a reforçar a ligação das crianças com a natureza. O respeito pela individualidade e pelas características de cada criança é um dos seus princípios, bem como o respeito pelo tempo de desenvolvimento natural de cada uma. As aprendizagens acontecem na cooperação e ligação com os outros e fora de portas, na zona florestal da Quinta das Conchas, em Lisboa.
Ana Passos e Sousa, diretora técnica da Escola Lá Fora, psicóloga, com experiência na gestão e implementação de modelos pedagógicos em creches e jardins de infância, explica o que move o projeto. “Baseamo-nos no modelo Forest School, em que há uma exploração do meio natural, um grande respeito pela individualidade de cada criança – a criança como única com características muito específicas - que é importante respeitar”, refere. Uma aprendizagem ativa numa mata que as crianças conhecem e andam à vontade.
É um espaço ao ar livre como uma sala sem paredes que permite um sem-fim de atividades, além de pinturas, colagens e recortes. “Fazemos muitas atividades de transformação de materiais naturais, folhas, paus, pedras, uma diversidade enorme. Há muita margem para trabalhar criativamente e na resolução de problemas”, adianta Ana Passos e Sousa. “Há muitos desafios motores pelo contexto natural, mas também construído por nós”, acrescenta.
A descrição das atividades tem espaço nas redes sociais. “Com as pás, escavámos uns buracos na terra. Juntámos água. Primeiro, batemos com as botas, depois as pernas. Depois, o resto. É um bocadinho como quando ouvimos uma música de que gostamos e não conseguimos ficar quietos. De repente, éramos todos iguais, criaturas de lama”. “Temos uma biblioteca lá fora que não tem paredes. Às vezes está numa lona à nossa espera, outras sobre rodas, num carrinho (…). Podemos consultá-la ou pedir que a leiam e não há limite: pode ser para um, para dois, ou para todos”. Há também sestas lá fora com o som dos passarinhos e os ramos das árvores a balançar.
O planeamento das atividades é definido com as crianças. “O que dá margem para tudo e mais alguma coisa”, diz a diretora técnica. A Escola Lá Fora tem pré-escolar para crianças dos três aos seis anos, a meio tempo e tempo inteiro, como um jardim de infância que funciona no exterior, e ainda atividades extracurriculares, de final de tarde, para alunos até aos 12 anos. O playgroup para bebés dos zero aos três anos, acompanhados por um cuidador, foi suspenso devido ao contexto de pandemia, e será retomado em setembro. E há ainda campos de férias.
Ana Passos e Sousa e Ana Galvão, diretora pedagógica da Escola Lá Fora, consideram que este movimento de aprendizagens ao ar livre devia ser a regra e não a exceção e defendem “uma revisão legislativa para se enquadrar as sessões educativas ao ar livre”. “É um caminho que está a começar”, repara Ana Passos e Sousa. “Este tipo de modelo não devia ser reservado a uma elite que consegue pagar uma escola privada, devia ser mais regular e acessível a todos. Devíamos levar este modelo ao maior número de crianças possível”, sublinha.
A Escola da Floresta do Movimento Bloom, associação ambiental sem fins lucrativos, quer reconectar as crianças à natureza através de experiências emocionais e divertidas, através do brincar. É um processo inspirador e uma pedagogia que permite um contacto permanente com o meio exterior e trabalha competências sociais e emocionais, o pensamento criativo, a comunicação, a resiliência, a resolução de problemas.
É uma escola que tem por base a filosofia Forest School e implementa atividades da Sharing Nature Worldwide, através da metodologia lúdico-criativa Flow Learning centrada em despertar o entusiasmo, experiência direta, focar a atenção, partilhar a inspiração. A Escola da Floresta Bloom surgiu em 2018, depois de uma candidatura a uma bolsa da Gulbenkian, com 16 turmas do 1.º Ciclo da Escola Básica da Várzea, em Sintra. A Quintinha de Monserrate, em Sintra, é a escola.
Mónica Franco trabalha com crianças e com escolas há vários anos, é coordenadora da Escola da Floresta e uma das fundadoras do Movimento Bloom. “Sentimos que as crianças estão cada vez mais desligadas da natureza e têm o seu tempo estruturado pelos adultos”, constata. E assim surgiu esta oferta que privilegia atividades ao ar livre, contacto com a natureza, construção de abrigos, jogos sensoriais e criativos, arte com objetos que o meio exterior oferece. Tudo de uma forma orgânica e natural.
“A natureza é a melhor sala de aula possível”, garante Mónica Franco. Não há um currículo definido e fechado para crianças do pré-escolar e 180 alunos do 1.º Ciclo de 10 escolas de Sintra. Por cada cinco, seis crianças, há um adulto, para que os mais novos corram, saltem, explorem a natureza, corram riscos, descubram, aprendam. “É um acompanhamento para apoiar e sustentar a aprendizagem”. As crianças são protagonistas do que aprendem.
Vinte de maio é o Dia de Aulas ao Ar Livre. Todas as escolas, de todos os níveis de ensino, Superior incluído, podem dedicar algumas horas ou o dia inteiro a atividades no exterior, em contacto com a natureza. O Movimento Bloom está na organização da iniciativa, juntamente com mais 13 países, e já há mais de 38 mil crianças e jovens inscritos. É um dia para levar as turmas para o recreio ou para a floresta, para uma mata ou bosque, para atividades lúdicas. Há várias dicas no site deste movimento global que trabalha todo o ano para que os mais novos passem mais tempo ao ar livre a aprender, a explorar, a aproveitar o tanto que o mundo natural tem para dar. Carlos Neto, professor catedrático e investigador na Faculdade de Motricidade Humana, autor do livro Libertem as crianças. A urgência de brincar e ser ativo, é o embaixador do Dia de Aulas ao Ar Livre em Portugal.
Cátia Lopes deu aulas em Portugal durante cinco anos, licenciada em 1.º Ciclo do Ensino Básico e pós-graduada em Ensino Especial, há nove partiu para Inglaterra, passou por inúmeras escolas com os mais diversos métodos de ensino, e há ano e meio cofundou uma escola na floresta. Chama-se Being Free Being Me para crianças entre os dois e os cinco anos e fica no sudeste de Londres. É um projeto educacional e democrático ao ar livre focado “na autoaprendizagem e na criação de relacionamentos positivos e de respeito mútuo”. Cátia Lopes prepara-se para voltar para Portugal, previsivelmente ainda durante este ano, para criar uma escola na floresta em Ourém, sua terra natal. Agora, à distância, dá formação a educadores e professores portugueses e interessados no modelo Forest School.
A lista de vantagens deste modelo é extensa. “É enorme e as pessoas não têm noção”, comenta. Cátia Lopes fala do desenvolvimento emocional – e lembra que a semana dedicada à saúde mental no Reino Unido tem como foco a natureza -, destaca a parte motora e os ganhos em termos de motricidade grossa e fina também. “O facto de subirem árvores, correrem, terem os pés na terra, apanharem chuva”. Combate-se a obesidade e desenvolve-se a linguagem, o vocabulário. “As crianças que passam muito tempo no exterior desenvolvem a curiosidade natural”.
Reconectar crianças e adultos com a natureza e pensar na educação e na parentalidade de uma forma mais consciente e positiva. Estes são alguns dos objetivos do seu projeto escola na floresta. Cátia Lopes explica, no seu site, o que acontece. “As crianças decidem o que querem aprender e nós proporcionamos um ambiente seguro onde elas se conectam com outras crianças e adultos para partilhar, negociar, resolver problemas e aprender novas competências. As nossas atividades planeadas são flexíveis no sentido em que acomodam os desejos e as ideias dos mais novos”.
Em 2017, surgiu a Associação Escola da Floresta – Forest School Portugal para estimular e alimentar a abordagem desse movimento. Formação, cooperação em rede e disseminação são os três grandes pilares desta estrutura que defende o programa de educação ao ar livre, no sentido de reaproximar as crianças da natureza e devolver-lhes uma “forma de vida mais harmoniosa e em contacto com o mundo que as rodeia”. É uma forma de estar, é uma filosofia de vida.
Mais recentemente, em março deste ano, surgiu o Movimento de Aprendizagem ao Ar Livre (AAL) e seu manifesto. Um movimento composto por profissionais de educação, especialistas em desenvolvimento na infância e famílias, que defende a autonomia no contexto educativo, mais oportunidades de as crianças estarem ao ar livre. Um movimento que pretende que o atual paradigma da educação seja alterado para derrubar barreiras ao desenvolvimento físico e emocional dos mais novos. Ana Passos e Sousa, Ana Galvão e Cátia Lopes fazem parte do movimento e assinam o manifesto. Carlos Neto também.
As crianças já não vão a pé ou sozinhas para a escola, as crianças já não brincam na rua, e as estruturas familiares sofreram mudanças profundas. “Está na altura de, em Portugal, tornar acessíveis a todas as crianças respostas educativas mais diversificadas, que desenvolvam as atividades pedagógicas e curriculares ao ar livre, viabilizando que estas sejam consideradas serviços educativos formais pelo Ministério da Educação”, lê-se no manifesto. Há bastante literatura científica e dados que comprovam os benefícios do contacto com o exterior, impactos no bem-estar e desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos mais novos, nas competências e capacidades inatas de experimentar e cooperar, na exploração e conhecimento do mundo à volta.
A resiliência, a colaboração, a resolução de conflitos, a comunicação, o raciocínio, a capacidade de interação, a autorregulação, saem a ganhar com o contacto com o mundo exterior. O movimento lembra que o enquadramento legal não contempla o funcionamento de serviços educativos no pré-escolar sobretudo ao ar livre, nomeadamente ao nível de instalações. Por isso, pede que a legislação seja revista para, sustenta, “tornar viável a existência de novos serviços educativos menos dependentes de infraestruturas e que funcionem essencialmente no exterior, cumprindo todos os requisitos pedagógicos atuais”.
O movimento avança com várias propostas, nomeadamente condições de segurança para atividades ao ar livre, um rácio máximo de seis crianças por adulto e grupos máximos de 18 crianças, e que todas as escolas do 1.º Ciclo tenham, no mínimo, cinco horas semanais ao ar livre com estratégias que promovam a cooperação e a livre exploração do contexto exterior. Na Escócia, exemplifica o grupo, a educação pré-escolar pode funcionar exclusivamente ao ar livre com o apoio do Governo. E a Alemanha é, adianta, “o país com o sistema formal de escolaridade ao ar livre mais amplo do mundo”, onde as atividades decorrem essencialmente ao ar livre no pré-escolar.
https://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=188965&langid=1